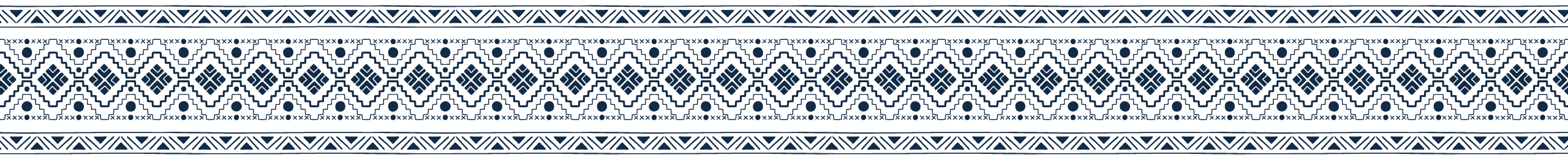Um conto de (quase) ficção científica sobre a economia compartilhada
Em 1972 um personagem um tanto excêntrico chamado Stafford Beer foi convidado pelo governo de Salvador Allende, no Chile, para dar início a um projeto surpreendentemente ambicioso, o Projeto Synco ou Cybersyn. Essa história meio desconhecida sugere que as verdadeiras origens históricas da sharing economy (economia compartilhada) e dos big data (megadados) não estariam no modelo das start-ups do Vale do Silício e no capitalismo de última geração, mas num experimento do socialismo real. Beer era inglês e morava em uma casa em que as fontes do jardim podiam ser ligadas e desligadas por controle remoto – e por isso mesmo era querido por figuras como Brian Eno, David Byrne e David Bowie. Ao desembarcar em Santiago, sugeriu a Allende que o Chile poderia funcionar através de um computador.
Beer era um estudioso da cibernética, uma disciplina que acabava de nascer e que buscava destrinchar o papel da comunicação com o objetivo de controlar processos sociais pela inovação tecnológica. O Projeto Cybersyn culminava numa Sala de Controle (Operations Room) montada em um subsolo de Santiago: um computador enorme rodeado de poltronas ergonômicas com botões de comando de design futurista. O computador estaria conectado em rede e controlaria uma cadeia de sensores em todo o território nacional, em tempo real.

As fábricas, as minas, a logística e os postos de distribuição forneceriam informações em tempo real a um centro unificado de coleta de dados, que por sua vez poderia redistribuí-las aos diversos nós da rede. Dessa forma, a produção de uma mina, por exemplo, poderia se regular automaticamente de acordo com a necessidade das fábricas, que por sua vez poderiam se orientar pela logística ou pela demanda do consumidor final. A ideia central era de que a força de trabalho do país pudesse participar do planejamento do processo de produção. Tudo isso seria complementado por um subprograma chamado Cyberfolk, através do qual cada cidadão poderia manifestar seu grau de satisfação com o funcionamento da máquina (mais ou menos como curtir ou não curtir) através de controles remotos nas salas de estar, que transmitiriam a informação pelos cabos de TV.
Como escreveria Evgeny Morozov, “numa palestra de 1964, Beer, prenunciando o trabalho em rede de dispositivos interconectados (a chamada internet das coisas), já havia sugerido que trabalhadores poderiam resolver sozinhos a maior parte de seus problemas. Para Allende isso era bom socialismo. Para Beer, era boa cibernética”.
Beer também já havia alertado para o perigo de um sistema interconectado baseado nos big data, em que sensores que adentravam as vidas das pessoas poderiam acabar sendo usados, no futuro, para fins bem diferentes daqueles de utilidade social para os quais foram pensados.
Pouco tempo depois, em 1973, Pinochet tirou da tomada a Sala de Controle. Beer por sorte não estava no Chile no dia do golpe, mas os megadados e a economia compartilhada, a partir daquele dia, seguiriam um outro caminho. Aqui, como em qualquer bom conto de ficção científica, há coincidências com a vida real que nos permitem continuar a história de forma convincente. Fernando Flores, espécie de ministro do Desenvolvimento de Allende que trabalhava em parceria com Beer no projeto Cybersyn, acabaria em Berkeley. Depois de algumas décadas passaria à direita conservadora e se tornaria um prestigioso consultor de empresas de tecnologia na Califórnia, ali onde, nos ano 80 e 90, começariam a se formar as bases do mítico Vale do Silício. Já Gui Bonsiepe, o designer da escola de Ulm, na Alemanha, que desenhou a Sala de Controle do Cybersyn, acabaria inspirando Steve Jobs e Jonathan Ive no desenho dos primeiros computadores da Apple.
Hoje, parece que aquilo que Beer prenunciou aconteceu de verdade, mas de forma muito maior e mais generalizada, potente, perigosa e complicada do que se poderia esperar no âmbito do Cybersyn. A Amazon recentemente obteve a patente para um projeto chamado anticipatory shipping, ou envio antecipado, um programa que consiste em enviar produtos antes mesmo que eles sejam comprados pelo usuário. O controle dos megadados perfila cada um de nós através das informações que produzimos cotidianamente nas redes e chegamos ao ponto de a maior corporação de logística do mundo poder nos enviar um livro antes de nós mesmos sabermos que o queremos.
Certamente, existe sempre um algoritmo para prever um aspecto do comportamento humano: o possível coincide cada vez mais com o provável, e entender se algo é mais ou menos possível se tornou uma mera questão de potência de cálculo. O diretor da Uber, em resposta a uma pergunta sobre o aumento dos custos para o usuário, certa vez declarou à revista Wired o seguinte: “Nós não fixamos os preços. É o mercado que fixa o preço. Nós temos os algoritmos para determinar o que é o mercado”.
O blockchain, para além do Bitcoin
Contudo, sigamos adiante com o nosso conto de ficção científica. Em 2009, a partir da percepção de que o mercado financeiro, o sistema de produção e, de certa forma, o controle de nossas vidas são definidos pela atividade sinérgica de máquinas com base algorítmica, um grupo de hackers e ativistas, motivados pela cultura open source, quase todos anarquistas e antissistêmicos (e criados na região de São Francisco, na Califórnia) desenvolveram um protocolo chamado Bitcoin.
Então, o raciocínio é simples: se o capital acumula valor através do controle de informações sobre os nossos comportamentos, bastaria construir uma infraestrutura tecnológica em que não há um centro de acumulação (ou proprietários) e em que os perfis não podem ser rastreados (ou seja, em que opera-se no anonimato), mas em que tudo seja garantido por computadores que fazem o processamento de forma sinérgica. Dessa forma, qualquer um, a partir de uma localização anônima, pode transferir unidades de valor (Bitcoins) e, ao mesmo, cooperar processando as transações feitas por todos os outros.

Para salvaguardar os usuários, registrar as transações e garantir que a moeda usada não seja falsa, todas as operações são transcritas em um único arquivo que é propriedade de todos – e que portanto não é de ninguém. Esse processo é chamado de blockchain. O que o Bitcoin faz, em resumo, é arquitetar uma infraestrutura financeira em escala global, que reinventa o dinheiro de forma decentralizada, peer-to-peer e anônima. O sucesso é enorme: não é mais necessário que um banco central fixe o valor do nosso trabalho e daquilo que compramos ou vendemos.
Cito aqui o Bitcoin porque ele me parece, sem sombra de dúvidas, a maior ruptura estrutural conseguida nos últimos tempos com os mecanismos do capital. São muitos seus prós e seus contras, e são inúmeras as análises que podem ser feitas a partir daí, mas para prosseguir com nosso conto de ficção científica, eis que um pouco de maniqueísmo pode vir a calhar. Entre os aspectos bons: decentralizar um serviço através de uma rede distribuída peer-to-peer impede que haja concentração de poder num único monopólio, assegura um funcionamento extremamente simplificado e elimina o peso burocrático.
Entre os ruins: o Bitcoin é baseado na potência de cálculo, e a maneira de emitir moeda e de autenticar qualquer transação depende do emprego, energicamente dispendioso, de processadores espalhados pelo mundo. Para além de preocupações ecológicas, acentuo o fato de que a moeda fixa seu próprio valor e sua destinação na automação das máquinas que calculam. Nesse sentido, o Bitcoin, de evento de ruptura acabou por se transformar também, nos últimos anos, em mais um instrumento de especulação financeira, dependendo de como é usado.
Se à primeira vista o blockchain parece ser apenas um aspecto dentre tantos outros, inerente ao funcionamento da criptomoeda, talvez ele seja mais inovador que a própria moeda, com potencialidades que vão muito além do campo financeiro. Não é difícil imaginar como esse tipo de tecnologia torna possível conectar as mais variadas entidades que trabalham como organizações autônomas decentralizadas (as DAO, sigla para Decentralized Autonomous Organizations), registrando diferentes tipos de serviços através de contratos sociais, ou “contratos inteligentes”, que são autenticados e registrados pela comunidade distribuída entre todos os nós, mas ao mesmo tempo anônimos e protegidos.
Eis que surge o Ethereum
Teríamos a constituição de uma infraestrutura organizacional independente de instituições reconhecidas (Estados-nação, organismos nacionais e supranacionais…) e, ao mesmo tempo, a possibilidade de decidir, em cada caso específico, as relações ou negociações a serem estabelecidas com as leis e normas dessas instituições e com órgãos tradicionais. Alguns criadores do Bitcoin investiram nesse caminho, e conceberam um projeto que busca oferecer esse tipo de serviço, o Ethereum.
Para sermos mais concretos, basta imaginar a possibilidade de se criar um produto, conectando várias pessoas através de contratos que vinculam seu processo produtivo. Eu, por exemplo, posso decidir produzir um filme, colocando em relação vários sujeitos: roteiristas, atores, cenógrafos, figurinistas, montadores, a empresa que aluga as câmeras, as salas de cinema, a companhia aérea que faz o transporte. Todos estarão conectados através de contratos registrados e autenticados em uma plataforma digital à qual terão aderido e à qual poderão ter acesso de forma totalmente transparente. A infraestrutura digital será processada por todos os usuários que aderiram, de forma distribuída e peer-to-peer, garantindo a todos a autenticidade do grupo e dos acordos feitos dentro dele.

Podemos imaginar também que para quantificar o valor do meu compromisso nesse projeto (se eu tenho que ser pago ou se devo algo depois que fiz o que estava estipulado nos contratos) seja possível criar tokens que funcionam como uma criptomoeda que pode ser usada dentro dessa mesma comunidade do projeto, e que essa criptomoeda criada temporariamente e vinculada à sorte do projeto possa ser em seguida convertida em outras criptomoedas de outros projetos. E, finalmente, podemos imaginar que essa infraestrutura usada para o desenvolvimento de um projeto pode ser pensada para toda uma empresa. Eu poderia, nesse sentido, montar um negócio, estruturando um modelo de administração (com conselhos, órgãos, etc) cujas ligações contratuais e mecanismos de decisão sejam registrados de forma distribuída e acessível em uma plataforma de blockchain. E cujos instrumentos financeiros sejam baseados em criptomoedas, ações e tokens criados dentro da própria plataforma.
Isso é mais ou menos o que o Ethereum oferece e é como funciona por exemplo The DAO, a organização autônoma e decentralizada que em 2016 obteve, para o seu lançamento, o financiamento coletivo mais polpudo da história (aproximadamente 170 milhões de dólares!). Só resta lembrar, no entanto, que essa revolução infraestrutural no universo da organização social, legal e produtiva não é necessariamente sustentada por uma posição política. Tanto é que parte do dinheiro hoje investido nesses mecanismos vem justamente de grandes capitais financeiros.
Nos últimos anos a economia compartilhada já revolucionou a forma como acessamos serviços e penetrou nossas vidas cotidianas. Redes sociais como o Facebook ou o Twitter transformaram a partilha daquilo que sabemos (cada um de nós publica milhares de posts por dia) e se tornaram as mídias mais influentes no campo da informação. O Airbnb, por sua vez, transformou, para o bem ou para o mal, a distribuição de apartamentos para milhões de usuários, tornando-se a opção mais competitiva no mercado hoteleiro. O Uber suplantou o tradicional serviço de taxis em muitas cidades, usando carros privados e o trabalho de motoristas ocasionais. Pelo perfilamento algorítmico dos hábitos de bilhões de usuários que transitam por essas redes algumas poucas corporações podem controlar a produção industrial, influenciar mercados financeiros, organizar redes de logística.
O que caracteriza a economia compartilhada e os tempos atuais é que todos nós, enquanto indivíduos, estamos em constante produção, e o compartilhamento de aspectos da vida de cada um se tornou a verdadeira forma do valor. Não há mais produtores, mas consumidores que produzem: os “prosumers”, para usar um termo cunhado na língua inglesa. É nessa revolução silenciosa que o trabalho, no formato em que o conhecíamos até agora, parece prestes a chegar ao fim.
Mas onde e como entra nisso tudo a política? Há dois aspectos que me parece importante destacar aqui: o da propriedade e o da (re)distribuição. E o que temos escancarado sob nossos olhos é o crescimento do monopólio das grandes corporações e o encolhimento do trabalho pago e, consequentemente, da riqueza e do poder de compra da grande maioria. A chamada sharing economy é muito economy e pouco sharing se olharmos para os efeitos que ela produz. Parece que, cada vez mais, colocamos à disposição para o compartilhamento gratuito as nossas vidas cotidianas, enquanto poucos monopólios ganham dinheiro e controle.
Por isso, o grande desafio político neste momento talvez seja como utilizar a tecnologia que temos à disposição para criar plataformas colaborativas que funcionem verdadeiramente como ecossistemas, em que o poder não fique acumulado nas mãos de poucos, e que distribuam de forma equânime a riqueza produzida, em termos de renda, serviços e bem-estar. O que está em jogo é a possibilidade de conceber estruturas digitais que permitam a autogestão de serviços de transporte, de redes financeiras alternativas, do compartilhamento real dos meios de produção, das logísticas dos produtos e de sua distribuição. Tudo isso sem monopólios, e aportando riqueza e sustentabilidade econômica para quem participa e usufrui.
Autogestão
O Macao é um centro de arte e pesquisa que nasceu na Italia em 2012, na onda das mobilizações políticas que tomaram a Europa no auge da crise econômica. O centro surgiu de uma assembleia de trabalhadores da cultura, com o objetivo de criar uma instituição de baixo para cima. A assembleia do Macao ainda existe, e ele não é de ninguém, não tem dirigentes, e sua programação é produzida a partir de chamadas públicas, de forma que vários grupos da cena emergente propõem suas iniciativas e cooperam em um contexto de apoio mútuo. Os valores das ofertas culturais são mantidos muito baixos, os meios de produção são compartilhados para reduzir custos, e a cena é muito viva porque com os ganhos conseguimos pagar os artistas, financiar projetos que não têm recursos e fazer pesquisa.
Vários projetos experimentais do Macao têm natureza política, concebendo a produção artística como forma de ação direta sobre as contradições e problemas sociais, e enfrentando temas como a precarização do trabalho na economia dos eventos, a segregação social no planejamento urbano, as migrações, os conflitos que pululam nas fronteiras da Europa.
Há algum tempo, o Macao vem colaborando com os projetos Freecoin e D-cent, desenvolvidos pelo grupo dyne.org. Em vez de criar uma criptomoeda e esperar para ver quem vai usá-la, eles estão programando uma série de ferramentas que permitam que redes de comunidades possam compor serviços, moedas ou plataformas de forma decentralizada e distribuída, na medida de suas exigências. O Macao começou a colaborar com eles na construção de uma plataforma pensada para o compartilhamento de meios de produção e coprodução. Propusemos desenhar com eles uma criptomoeda (que chamamos de Commoncoin) que tivesse características específicas. A pergunta que nos parecia mais interessante e radical era: é possível usar uma tecnologia que trabalhe de forma algorítmica, decentralizada e peer-to-peer, vinculando porém a sua forma de funcionamento a uma visão política coletiva? Ou, colocado de outra forma: é possível vincular as operações de uma máquina não ao cálculo puro, mas a decisões políticas compartilhadas por uma comunidade de referência?

Hoje uma rede metropolitana de espaços sociais, pequenos comércios e agricultores independentes estão trabalhando juntos na concepção dessa infraestrutura financeira alternativa, baseada numa moeda digital que será administrada de maneira distribuída por carteiras digitais individuais. A ideia é garantir a segurança e a autenticidade do circuito com o blockchain, mas deixar as decisões sobre os seus princípios de funcionamento para a negociação política e relacional dos sujeitos que vão usá-lo. Nesse sentido, estamos discutindo agora como a moeda vai ser emitida e como vai ser distribuída. De forma mais específica, estamos considerando oferecer uma renda incondicional para todos os participantes do circuito e debatendo como damos valor às coisas – do trabalho que cada um desempenha dentro da comunidade àquilo que produzimos.
De certa forma, o futuro que imaginamos é feito de infraestruturas tecnológicas decentralizadas, distribuídas e algorítmicas governadas por discussões e processos de decisão democráticos, no âmbito de comunidades que compartilham determinados pressupostos e valores. Em outras palavras: se o futuro é feito de algoritmos que controlam nosso comportamento economicamente, relacionalmente e espacialmente, a questão é como colocá-los em discussão e evitar um déficit democrático. O grande desafio da sharing economy e da inovação tecnológica está na possibilidade de evitar dois extremos: por um lado, a privatização dos algoritmos, como no caso do Uber, da Amazon, do Airbnb, etc; por outro, uma autonomia absoluta dos algoritmos, em que o fator político se dissolve na potência de cálculo e num capitalismo anárquico. Trazer o fator político à cena significará vincular os algoritmos a processos de decisão democráticos, dinâmicos e compartilhados.
Se conseguirmos influenciar a forma das novas infraestruturas financeiras e produtivas (que serão cada vez mais definidas por novas tecnologias e contratos sociais) evitando o acúmulo de poder nos processos de governança, os monopólios e uma distribuição deficiente do capital, teremos dado um passo à frente significativo na construção de novas formas de cooperação e organização social. Partimos portanto de um passado com ares de ficção científica para chegarmos num presente que nos instiga a sermos extremamente concretos e pragmáticos.
E quais são as possíveis soluções?
É por isso que concluo abordando possibilidades táticas que dizem respeito ao que fazer. Se é urgente pensar formas de governança para conceber as novas estruturas tecnológicas, há vários caminhos possíveis. A governança pode implicar na rejeição, na negociação ou na aceitação do que está posto. Do ponto de vista estratégico, muitos dos experimentos em curso promovem inovações dentro de sistemas fechados e pré-concebidos de governança, a saber: o estado, o setor privado, redes alternativas aos dois primeiros.
É possível pensar, por exemplo, que só através de uma proposta política no âmbito da democracia representativa seja possível renegociar a possibilidade de autodeterminar e autogerir as infraestruturas tecnológicas e produtivas, bem como os serviços públicos. Pensando no âmbito local, sob esse aspecto, poderíamos propor a organização de um serviço como o Uber para a rede de mobilidade urbana, enquanto serviço público e não como monopólio de um proprietário que opera globalmente.
Se for esse o caminho, podemos todos continuar a praticar esse que segue sendo o maior esporte de todos os tempos na Itália: tentar criar um partido de esquerda. Só que não é difícil ver os limites, aqui, em termos de relações de força. Basta olhar para as dificuldades enfrentadas pela Grécia ao tentar reverter sua subordinação a regras abstratas e algorítmicas do mercado financeiro. Para colocar a questão no tom pessimista de um comentário do pensador autonomista Franco Berardi Bifo, parece que estamos assistindo a um evidente fracasso da democracia frente ao cálculo financeiro.
Uma outra opção é pensarmos que uma infraestrutura tecnológica que permite que organizações distribuídas e autônomas operem em rede de forma independente e global poderia superar tanto a organização social do Estado quanto os monopólios corporativos privados, desenhando comunidades políticas e cooperativas de várias naturezas e com potencialidades que ainda desconhecemos. O risco, neste modelo decentralizado, autônomo e autárquico, é de um isolamento excessivo, que implicaria na dificuldade de responder às necessidades mais cotidianas e às demandas básicas e concretas das pessoas.
Um terceiro caminho é operar a partir do universo dos negócios e do empreendedorismo. Buscar inovar promovendo empresas mais equitativas e cooperativas, que possam ser, através das novas tecnologias e de formas societárias baseadas nas start-ups, sustentáveis e socialmente úteis. Aqui o risco é que empresas desse tipo tenham ainda menos credibilidade do que redesenhos das operações e dos gastos públicos. Além disso, o modelo parece excessivamente ingênuo no que diz respeito às relações de força com o mercado das grandes corporações. Quase sempre, ele acaba sendo um mero vestíbulo, um laboratório de ideias e experimentos para um mercado feito de monopólios que, em última instância, raramente põem em discussão seus próprios mecanismos.
Parece que estamos nessa espécie de interregno, um território de indefinição, em que talvez seja útil abandonar nossas crenças em possibilidades que se fecham em apenas um desses caminhos, buscando reforçar alianças novas para construir práticas reais de co-criação do comum.
Emanuele Braga é artista, pesquisador, coreógrafo e ativista. É co-fundador do Macao, centro de arte e cultura em Milão, Itália.
Publicado originalmente em Revista Piseagrama com o título Política do Algoritmo.
Já que chegaste até aqui, queremos te convidar a conhecer melhor a Pluriverso. Além dos conteúdos da Revista Colaborativa Pluriverso, você encontrará Cursos, seminários, eventos, oferecidos pela nossa rede de Anfitriãs/ões além de Fóruns públicos e grupos de trabalho e debate autogestionados, ligados ou não a organizações e processos formativos. Sim, Você pode criar o seu.
Vem fazer parte dessa rede diferente, de gente com vontade de fazer do mundo um lugar melhor.