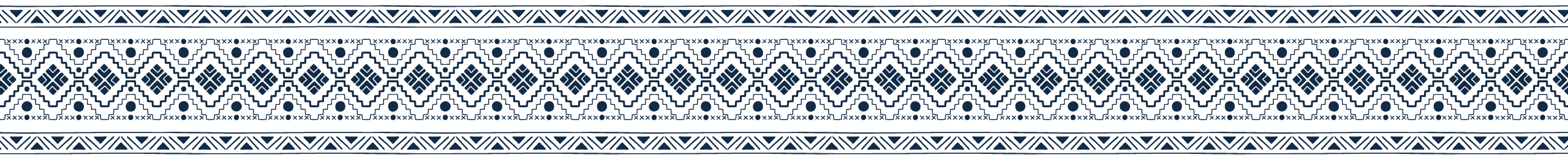Nas bordas a leste da maior cidade do hemisfério Sul – São Paulo –, um coletivo de mulheres se reúne em torno de uma mesa para produzir cosméticos naturais. Entre ervas que suas avós usavam como remédios e batuques animados, aos poucos, temas como racismo e abuso de crack vão se desvelando nas conversas conforme pomadas, sabões e escalda-pés ganham formas, cores e aromas.
A centenas de quilômetros dali, nas franjas a oeste da mais famosa cidade brasileira no mundo – o Rio de Janeiro –, são pedaços de pano, das mais diversas cores e estampas, que ganham contorno em colchas cerzidas, enquanto assuntos como conflitos com filhos e violência doméstica vão se costurando em “círculos de cura” a partir da escuta coletiva.
Em comum, ambas as organizações são coletivos não institucionalizados (por escolha, mas que em breve terão CNPJ para “se adequar” ao sistema), conduzidos por mulheres pretas e periféricas, cujos trabalhos se dão com base em apoio mútuo no território, com olhares e abordagens emergentes, integradas, profundamente relacionais.
“Nosso método é o afeto, o olho no olho, a música. São os valores afrocivilizatórios brasileiros, baseados na circularidade, no axé, na musicalidade, na cooperação”, conta a educadora popular e enfermeira baiana Leila Rocha, cofundadora da Ilera – Ancestralidade e Saúde, atualmente sediada no bairro paulistano de Guaianases.
Não à toa, o termo ilera, de origem iorubá, está associado à saúde e ao cuidado, ao compartilhamento e ao acolhimento.
“A ideia é cuidar da saúde como nossas mães e avós cuidavam, com base no conhecimento de matrizes negra e indígena, uma saúde integral a partir de nossos ancestrais”.
Leila Rocha

Mulheres de Pedra
Rituais também são parte importante do coletivo Mulheres de Pedra, no bairro carioca de Pedra de Guaratiba. As mulheres começam as oficinas em roda entoando um canto de jongo, dança de origem africana, em que pedem “licença” aos antepassados para entrar na casa, independentemente da religião de cada uma.
E, de retalho em retalho, as colchas cosidas na casa centenária foram se tornando artefato visível de um processo de trabalho coletivo, conexões autênticas, abertura para novos olhares e desenvolvimento do potencial de cada pessoa, entremeados pelas relações artísticas.
“É sobre o individual valorizando o coletivo e o coletivo valorizando o individual. É sobre ter resistência, potencialidade, é acreditar num mundo melhor que depende de mim e do outro. É acreditar muito no outro”, resume a pedagoga e também educadora popular Leila de Souza Netto, coordenadora do coletivo.
Cada qual em seu território, as Leilas talvez representem duas entre milhares de vozes de um fenômeno emergente e cada vez mais potente no Brasil: o de coletivos e organizações legitimamente criados e conduzidos por representantes de grupos historicamente marginalizados.
Não que o fenômeno da ação coletiva seja novo – basta lembrar os movimentos sociais por direitos e luta pela redemocratização dos anos 1970 e 80, as iniciativas de economia solidária em todo o país, ou ainda os próprios quilombos.
Porém, do lugar privilegiado de quem trabalha com fortalecimento institucional e apoia a conexão entre quem detém recursos – sobretudo financeiros – e quem encampa esforços de mudança social nos territórios, nas duas últimas décadas temos acompanhado uma série de coletivos e tendências no campo.
Talvez nenhum com tamanha capacidade de se efetivar e ressignificar as estruturas da sociedade civil no tocante ao enfrentamento das desigualdades sociopolíticas, culturais e econômicas como a desses coletivos.
Isso porque, a nosso ver, tais coletivos e organizações propõem uma mudança radical – na raiz – que contraria modelos mentais hegemônicos e o status quo do campo como um todo. A começar de quem parte a ação, em geral pessoas colocadas no lugar de beneficiárias, quando deveriam ser agentes centrais nas transformações socioambientais pelo amplo conhecimento das questões locais e contextuais e das possíveis melhores soluções para elas.

Na forma, partem também do trabalho relacional profundo, ao criar espaços de confiança e cura coletiva, para então tecer, de dentro para fora (e de fora para dentro), a transformação territorial com os mais diversos agentes envolvidos. Geralmente, em espaços marcados tanto por exclusões, traumas e violações de direitos como por narrativas únicas e potencialidades múltiplas.
“Temos olhares singulares oriundos de experiências interseccionais que produzem saídas únicas para as adversidades cotidianas. Temos uma metodologia radical e inovadora de geração de impacto que busca resgatar práticas ancestrais de valorização de nossas redes e comunidades, de salvaguardar nossa memória com o resgate e a construção do conhecimento”.
Atesta Aline Odara, cofundadora do Fundo Agbara. Primeiro fundo de mulheres negras do Brasil, nascido de práticas de filantropia negra e comunitária, o Agbara tem como missão a promoção do acesso a direitos econômicos a mulheres negras.
Essas são hipóteses que trazemos de forma exploratória, a partir de nossas próprias vivências, reflexões e aprendizados. Sobretudo ao longo dos últimos cinco anos em que vimos florescer e acompanhamos de perto mais de uma centena de iniciativas dessa natureza.
Esse modo de viver – e de produzir mudança social – sempre existiu por aqui, desde antes do domínio colonizador. Em São Paulo, há mais de 15 anos vemos os esforços hercúleos d’A Banca (ver “Em Busca do Empreendedorismo Social Inclusivo”, na edição 1 da SSIR Brasil); as próprias Mulheres de Pedra têm quase um quarto de século.
Entretanto, partimos do pressuposto de que o momento dá pulso ao movimento. Com iniciativas emergentes germinando como nunca, por razões tão variadas quanto complexas – de acessos a direitos básicos como renda, educação e tecnologia que se ampliaram nas últimas décadas ao, paradoxalmente, aumento das desigualdades e precarização do trabalho. Além de fatores que possivelmente passam, no curto prazo, pela pandemia, por mudanças geracionais no médio prazo e, no longo prazo, por uma transição maior no nível ontológico que acreditamos (ou esperamos) estar vivendo.
Desafios e Perspectivas
Desafios não faltam. Provavelmente o maior de todos é viabilizar abordagens relacionais com mudança sistêmica e que questionem o pensamento hegemônico e sua mecânica no sistema atual de que fazemos parte. A começar pelos recursos financeiros, que raramente fluem na contracorrente.
Acompanhamos também de perto as dores desse processo emergente e vemos como necessária toda a cautela possível para não criar personagens heroicos, invulneráveis. É comum na lógica predominante transformar pessoas em máquinas de trabalho e, por conseguinte, exemplos de sucesso, em especial no contexto de grupos mais vulneráveis, em que uma voz que se destaca acaba tendo a responsabilidade de representar todas aquelas não ouvidas.
Outro desafio está na lógica de crescimento e escala a todo custo para que a mudança seja considerada sistêmica. De nossa experiência, contudo, tais coletivos e organizações operam sob lógicas diferentes. Nem todos almejam gerar franquias sociais, influenciar políticas públicas e alcançar milhões de atendimentos em seus relatórios anuais. Possivelmente, por verem em sua atuação um sistema em si.
Talvez por conhecerem como ninguém as complexidades humanas e unicidades dos territórios. Talvez por saberem que há séculos no Brasil povos originários e negros, contextualmente periféricos, já trabalham com outro tipo de escala, ainda que mais sutil, a partir da lógica das conexões, das relações e das colaborações dentro e entre os territórios.
Os Yawanawá, comunidades de povos originários no oeste da Amazônia brasileira, por exemplo, vêm sustentando uma mudança paradigmática na lógica de definição do valor monetário de uma matéria-prima mantida pela sabedoria ancestral: o urucum (semente que produz um pigmento vermelho-alaranjado).
Há mais de 30 anos, a empresa de cosméticos Aveda compra o urucum dos Yawanawá por um preço que considera o valor histórico, a manutenção do conhecimento tradicional e o modo de vida sustentável. A construção desse processo foi longa: a Aveda apoiou na parte tecnológica para beneficiamento do urucum, ocorreram visitas mútuas e inúmeros momentos de interação que provocaram mudanças em todos os envolvidos.
Não sabemos se essa experiência é considerada de escala na indústria de cosméticos. O ponto-chave é que a lógica mudou de uma mera relação de compra e venda de um produto bruto para uma grande empresa reconhecendo (e pagando por) todo o conhecimento e história desse povo. Isso influencia muitas outras relações tanto dos Yawanawá quanto da Aveda.
O que nos traz a outras indagações, inspiradas por uma frase da Rede Asta (“das nanoevoluções surgem as grandes revoluções”): será que, com o devido apoio reparativo, essa profusão de coletivos e organizações emergindo por todos os cantos do país, operando em colaboração, não poderia oxigenar o que entendemos por mudança sistêmica? Será que há mesmo espaço para nos abrirmos para novos modelos e formas de pensar e fazer? Será que disso não pode emergir uma contribuição genuína brasileira sobre como transformar as dinâmicas de poder? Será que não podemos aprender com tais práticas de modo que essa forma relacional de sentir, pensar e agir possa inspirar qualquer ação social?
Acreditamos profundamente que sim. E sabemos que a jornada será longa. O primeiro passo, a nosso ver, está relacionado com começarmos (ou voltarmos) a falar no campo da filantropia sobre temas como trazem os autores do texto com o qual aqui “conversamos”. Sobre relações, sobre espaços de cura, sobre o sagrado, sobre mudanças que partem “de dentro” em todos os sentidos, sobre transformar as dinâmicas de poder. Sobre aspectos mais profundos do que nos torna humanas e humanos.
O próximo é que espaços como este possam ser ocupados pelas próprias pessoas aqui mencionadas, que elas não precisem de “intermediários” para trazer suas histórias e perspectivas. Afinal, o exame de vieses vale para todo mundo, incluídos estes autores. Essas reflexões são apenas uma provocação inicial e um convite para que novos estudos e artigos ocupem este ou outros espaços de debate.
Cássio Aoqui, Tiana Vilar Lins e Vanessa Prata são profissionais do campo social e cofundadores do Labô – Laboratório Social, coletivo de experimentações e proposição de práticas emergentes no campo da mudança social.
Matéria publicada originalmente na Stanford Social Innovation Review Brasil SSIR-Brasil.