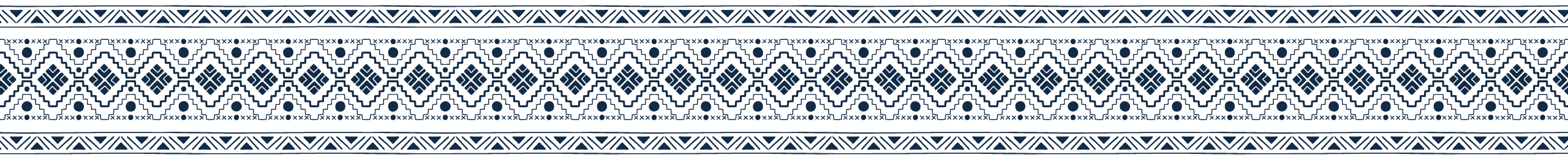A historia de como o Jardim Colombo transformou um dos poucos espaços urbanos livres no complexo de Paraisópolis em São Paulo, tomado por uma quantidade enorme de lixo, em um espaço de invenção coletiva para uma comunidade modelo.
Por Ester Carro, ilustrações de Leandro Estevan
Eu sempre disse a mim mesma que a profissão que decidisse seguir, independentemente de qual fosse, teria que impactar o lugar de onde vim. Eu não queria que nenhuma criança passasse pelo que passei na infância. De início, pensei que seria professora. Uma amiga querida, que de alguma maneira enxergou isso em mim, me sugeriu cursar arquitetura. Contei para minha mãe e minha avó sobre essa possibilidade. Minha avó era empregada doméstica, e as patroas sempre doavam revistas para ela – Casa Vogue, Casa Claudia e outras revistas de decoração – e ela passou a me dar as revistas que ganhava. Eu achava tudo muito bonito, muito bacana, mas não entendia como uma arquiteta podia ajudar as pessoas.
Nasci no Jardim Colombo, um bairro que faz parte do complexo de Paraisópolis, e que está situado na Zona Oeste de São Paulo, junto ao Morumbi. Existe esse enorme contraste entre nosso bairro e as grandes construções, as escolas, as quadras poliesportivas – todas particulares. Nossa experiência sempre foi de muita escassez.
Há um córrego no Jardim Colombo que corta toda a comunidade e que alaga quando chove. Nossa casa nem ficava tão próxima do córrego, mas sofríamos por causa dos alagamentos. Minha irmã e eu brincávamos com a água suja que entrava em casa, o que para nós era uma espécie de piscina. Se hoje digo isso brincando, tem também um lado muito triste, pois muitas pessoas perdiam seus pertences. Toda vez que chegava a época de chuva, era um desespero! Além disso, na frente da nossa casa tinha um lixão, que hoje não está mais lá. E o lixo atraía ratos e baratas que acabavam entrando em nossa casa, e tínhamos muito medo. Até hoje tenho medo de ratos por causa do que vivemos na infância.
Dentro do Jardim Colombo também nunca houve uma escola. A escola mais próxima ficava a cerca de 30 minutos andando, e para acessá-la havia um percurso complicado, principalmente nos dias de chuva. O caminho era ruim, e tínhamos medo dos abusadores que ficavam em carros, à espreita. Tentávamos ir sempre em grupos de crianças para que não acontecesse nada.
No último ano do ensino médio, tive que fazer uma pesquisa sobre a profissão que gostaria de seguir. Para isso, me aproximei de alguns arquitetos que estavam trabalhando para a prefeitura em projetos de urbanização e paisagismo dentro do complexo Paraisópolis. Lembro que, ao caminhar pela comunidade com uma das arquitetas, comecei a entender o potencial daquela profissão: sim, eu poderia mudar a vida de muita gente.
Já na faculdade, apesar das ferramentas e técnicas que estava aprendendo, rapidamente percebi que não teria contato com projetos específicos para favelas. Simplesmente não se falava sobre esse assunto. Todos os arquitetos que estudávamos eram sempre homens e grandes arquitetos ou arquitetos de fora do Brasil, e era muito sucinta a forma com que eram discutidas as comunidades. No máximo, passávamos pelo tema de forma ampla e distanciada nas aulas de planejamento urbano, sem estudar nada sobre elas em outras escalas, e nem era considerado estar de fato no território. Não foi fácil seguir adiante no curso, pensei várias vezes em desistir. O material era bastante caro e os estudos exigiam muito tempo.
“Nossa, eu não imaginaria que isso acontecia, que as coisas são assim!”, me diziam muitas vezes meus colegas, que ficavam surpresos com as informações que eu trazia. Sei muita coisa sobre esses territórios e essas comunidades por causa da minha experiência. A maioria das pessoas não sabe que nós temos problemas como asma, sinusite, bronquite, rinite, que são causados pela forma como moramos. Eu sou prova disso: a casa em que morávamos quando criança me causou problemas respiratórios que hoje não tenho mais. Nossa saúde está muito atrelada à maneira como moramos, como vivemos, ao contato que temos com o espaço público, com as áreas verdes. Estamos falando de questões de sobrevivência.
É preciso falar sobre isso, mostrar nas universidades que nem todos precisam construir casas de 400m², que nem todo mundo vai trabalhar com decoração. Hoje não podemos olhar a cidade informal e a cidade formal de forma separada. Elas são uma coisa só, e precisamos estudar os dois lados. É preciso ter disciplinas que tratem desses assuntos. É preciso também tornar visível o trabalho de arquitetas e arquitetos que atuam diretamente com favelas, que pensam o empreendedorismo social. E esse tipo de debate deveria começar nas escolas, antes mesmo que nas universidades.
Ainda há muita gente que não sabe o que acontece numa comunidade. Muitos só souberam recentemente, durante a pandemia, que existe fome; que o saneamento básico ainda é quase inexistente em muitos lugares; que tem gente que precisa compartilhar o banheiro com o vizinho ou com outra família; que entram ratos e baratas dentro de casa com frequência. São coisas que ainda acontecem, que ainda existem, e muitas pessoas não têm noção de que o problema está lá. É muito cruel. Elas não têm noção do que cada morador carrega dentro de si.
Eu me formei em 2017. Naquela época, meu pai, que é presidente da União de Moradores, estava em contato com a plataforma Arq. Futuro, que estuda o planejamento e o futuro das cidades. Meu pai conheceu a equipe do Arq. Futuro numa palestra que foi convidado a fazer. Trocaram contatos, foram visitar a comunidade e, nesta visita, depararam com a Fazendinha. Começamos a conversar, eles começaram a nos apoiar e pensamos juntos em alternativas para aquele espaço.

A Fazendinha era um dos poucos espaços urbanos livres no complexo de Paraisópolis e na cidade de São Paulo, mas estava tomado por uma quantidade enorme de lixo. Eles ficaram espantados com aquilo e nos contaram de um projeto que havia sido feito pelo Mauro Quintanilha na favela do Vidigal, no Rio de Janeiro. Ele havia transformado um lixão com uma área quase oito vezes maior do que a nossa área em Paraisópolis.
O Jardim Colombo, antigamente, era composto por várias chácaras. Com o tempo, foram acontecendo as ocupações que alteraram o perfil do bairro. Quando eu era criança, naquele terreno que tinha se transformado num grande lixo, ainda morava o Seu Chico. Ele cuidava de animais – vacas e galinhas –, e por isso todos da comunidade conheciam o espaço do Seu Chico como Fazendinha.
Foi muito difícil conseguir caminhões para tirar todo aquele lixo. Tivemos que bater à porta da subprefeitura do Butantã que, de início, não queria nos ajudar, embora o terreno fosse dela. Só depois de muita insistência disponibilizaram caminhões. Marcamos um primeiro mutirão com a comunidade, mas no dia marcado estávamos só eu, meu pai e outro morador. Ficamos desesperados! Foi quando voluntários externos do Arq. Futuro começaram a chegar e a colocar literalmente a mão na massa, conosco.
Para tirar o lixo do terreno e levá-lo aos caminhões era preciso passar por uma viela estreita. Não foi fácil, mas não paramos. Passamos os meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018 organizando mutirões para levar o lixo até os caminhões. Foram mais de 40 caminhões cheios de lixo, só naquele primeiro momento de mutirão – e tudo tirado no braço!
Até ali, não tínhamos tido uma grande participação dos moradores. Chegamos à conclusão de que era porque estavam cansados de projetos apresentados a eles e que ficavam só no papel. Isso acontece com muita frequência, principalmente com projetos vindos da prefeitura. Tínhamos que demonstrar a eles que agora era diferente, que realmente estávamos querendo uma mudança. Foi quando, no final de maio, chegou à comunidade António Moya, ex-aluno do MIT, propondo trabalhar com a cultura como infraestrutura de territórios vulneráveis. Durante dois meses trabalhamos juntos e criamos nosso primeiro Festival de Arte.
Para que o Festival acontecesse, porém, tínhamos que avançar com as obras. O terreno da Fazendinha tem um declive de 18 metros do ponto mais alto ao ponto mais baixo, e decidimos criar plataformas. O Mauro Quintanilha sugeriu que a contenção poderia ser feita com pneus, e fomos então atrás dos pneus. As empresas às quais solicitávamos ajuda não respondiam, então procuramos pneus na comunidade mesmo, engajando as pessoas.
Criamos um pré-festival com oficinas de fotografia, de marcenaria com pallets, de vasos de cimento. Fizemos um tour com as crianças pela comunidade, conversando sobre questões ambientais. O mais interessante, no entanto, foi que começamos a escutar os moradores. Visitamos muitas casas e perguntamos o que as pessoas achavam interessante ter no Festival.
Quando o Festival aconteceu, utilizamos não só a Fazendinha, mas também a rua paralela a ela. Tivemos um grande almoço, teatro, jiu jitsu, oficina de horta, de reciclagem. Fechamos a rua para os veículos e abrimos a rua para a cultura. Uma das oficinas se chamava Fazendinhando, e nela levamos uma maquete para que as crianças percebessem o terreno e pudessem desenhar o que desejavam para aquele espaço em folhas de papel.
Apesar de termos arquitetos envolvidos, era também muito importante para nós entender o que a comunidade esperava da Fazendinha. Em 2019 realizamos uma pesquisa chamada Escuta Ativa, na qual conversamos com moradores de ponta a ponta da comunidade – crianças, idosos, homens, mulheres e jovens – para entender o que estavam achando das transformações, se queriam ajudar, quais eram suas expectativas.
O primeiro Festival de Arte nos mostrou que não era possível pensar apenas a transformação física daquele lugar; precisaríamos pensar as questões e transformações culturais, desde a conscientização até o envolvimento. Começamos, então, a organizar mensalmente oficinas na Fazendinha. E os moradores começaram a sentir que eram parte daquilo, que seus filhos também faziam parte.

A logomarca do Fazendinhando foi trabalhada com as crianças, que escolheram as cores e o desenho que desejavam, e nós simplesmente replicamos o que fizeram. As crianças pediram muito uma quadra, então inserimos uma na parte mais plana, bem como um muro de escalada, um escorregador, um playground. Tudo foi feito com base no que as crianças pediram.
Nunca é fácil trabalhar com poucos recursos. E também não foi fácil entender como engajar os moradores e como fazê-los participar, falar, entender que são agentes transformadores com enorme potencial. Nas comunidades, as pessoas costumam achar que não têm potencial, que precisam se limitar, e o que nós temos buscado mostrar é que elas podem, sim, alcançar seus objetivos, buscar seus sonhos. As pessoas precisam crescer, acreditar, e às vezes o que falta é só um empurrãozinho!
Hoje temos grupos de WhatsApp e, por meio deles, nos comunicamos com os moradores. Alimentamos frequentemente os grupos, procurando manter o apoio e o engajamento. E buscamos também ter sempre atividades para oferecer. As pequenas mudanças fazem diferença, e quanto mais pessoas estiverem fazendo um pouquinho, este pouquinho vai se transformar em muito. Começamos com a transformação de um lixão em um parque e hoje já estamos lidando com muitos outros projetos.
A palavra comunidade tem um peso e uma importância muito grande para nós. Eu uso muito a palavra favela, não tenho nenhum problema quanto a isto, mas vejo o Jardim Colombo como uma comunidade, porque, apesar de todos os problemas que enfrentamos, de todas as carências e dificuldades, sinto que podemos sempre contar uns com os outros. Gosto de reforçar essa palavra, reforçar que na comunidade há afeto, há luta, há persistência e que, apesar de todos os medos, de todas as angústias, de todas as coisas ruins que acontecem, as comunidades são fortes quando as pessoas nelas se unem.
Em março de 2020 fizemos nosso último mutirão. Naquele momento estávamos assustados, porque, com a Covid-19, muitos moradores vinham falar conosco pedindo ajuda. Estavam perdendo seus empregos e muitos já não tinham o que comer dentro de casa. Desesperados, tínhamos que encontrar novas alternativas para ajudar o Jardim Colombo. A primeira campanha que realizamos foi pequena: compramos 28 cestas básicas que não iriam conseguir alimentar as quase 5 mil famílias que delas precisavam, mas tínhamos que começar de algum modo.
Foi desanimador quando começamos a distribuir as cestas de casa em casa: as casas se encontravam em estados muito precários, e as pessoas realmente não tinham o que comer. Então, para nossa surpresa, uma rede de solidariedade começou a surgir dentro do Jardim Colombo. As doações começaram a aumentar graças às redes que estávamos criando ao longo desses anos por meio de uma gestão horizontal e compartilhada, e começamos a realizar um trabalho com a comunidade. Fizemos flyers pedindo para que as pessoas ficassem em casa; criamos um flyer específico explicando protocolos de higiene e também improvisamos uma moto de um morador com uma caixa de som acoplada para disseminar informações verdadeiras para a comunidade, já que havia uma série de fake news circulando e as pessoas não sabiam que informações escutar.
Na nossa segunda entrega tínhamos cerca de 500 cestas básicas, mas foi um desastre total! Os moradores estavam sem máscaras, havia muita aglomeração, nós não sabíamos o que fazer e os moradores não paravam de falar: “Cadê minha cesta? Eu estou precisando! Como é que vou fazer?”. Era muita gente pedindo, muita gente angustiada, preocupada, com medo de ficar sem cestas. Paramos naquele mesmo dia e concluímos que seria necessário encontrar algum meio de melhorar aquilo.
Realizamos, então, a formação de uma equipe de cerca de 50 voluntários que fizeram um cadastro de casa em casa, de viela em viela, de porta em porta do Jardim Colombo. Nesse cadastro constava a quantidade de pessoas na casa, com nome, documento, endereço, renda da família, status da propriedade, telefone. A partir daí, começamos a elaborar listas em que constavam as famílias que seriam atendidas a cada dia. Criamos cinco grupos de WhatsApp, cada um com cerca de 200 pessoas. Isso ajudou muito, porque uma ia contando para a outra: “Olha, seu nome hoje está na lista!”. Distribuímos, com a lista, uma senha que a pessoa precisava apresentar quando chegava à portaria, onde tínhamos também o cadastramento para famílias que, por acaso, não tivessem sido contempladas no mapeamento.
Montamos um espaço que servia não apenas para a retirada das cestas, mas também para abastecimento, montagem e controle de produtos. Um grupo de pessoas ficava responsável pelas assinaturas dos termos de uso de imagem para comprovar que cada pessoa havia recebido a sua cesta. Foi quase uma multiplicação do pão e dos peixes, porque, das 28 cestas básicas que tínhamos no início, conseguimos 25 mil cestas básicas, além de uma quantidade muito grande de produtos de higiene e limpeza, fraldas, cestas de legumes, doações de roupas.
Tínhamos um local para deixar as crianças e também uma cozinha comunitária desativada que reativamos, de forma que conseguimos gerar renda para cinco mulheres da comunidade com a produção de marmitas, focando principalmente os moradores em situação de rua e os idosos. Ao final, conseguimos atender não só toda a comunidade do Jardim Colombo, como também outras 13 comunidades no Estado de São Paulo.

Alguns casos nos assustaram, como o de um senhor que mora com o irmão numa casa que não tem água. É impossível não se perguntar como, em pleno século XXI, na região do Morumbi, famílias não têm água em casa? A casa desse senhor parecia o cenário de um filme… Já entrei em muitas casas ruins na minha vida, mas naquele barraco de madeira eu mal consegui entrar. Perguntamos como faziam para tomar banho ou beber água, e nos contaram que colocam baldes no quintal para captar a água da chuva. E quando não chove, eles pedem para os vizinhos.
Só foi possível descobrir casos como aquele por causa desse trabalho minucioso feito pelos voluntários. O impressionante é que a prefeitura e outros órgãos públicos não têm noção dessas coisas! Nesse mesmo levantamento percebemos que havia um número muito grande de mulheres desempregadas, mães solteiras pagando aluguel, passando por várias dificuldades. Nós não podíamos deixar essas mulheres desamparadas, e acabamos criando um projeto chamado Fazendeiras, que lida com a qualificação das mulheres nos campos da gastronomia e da construção civil. Para além da formação (muitas delas nunca tinham feito qualquer curso na vida), o mais interessante foi o elo que se estabeleceu entre elas. Hoje, quando uma fazendeira precisa de apoio em casa, ela anuncia no grupo e as outras fazendeiras ajudam imediatamente.
Com todas essas ações, muitas pessoas passaram a enxergar em si um potencial que achavam que não tinham. De alguma maneira nós estávamos potencializando o que estava guardado, fechado dentro desses moradores. Quando eles começaram a participar e se engajar, começaram a entender que podem mudar a realidade deles e da comunidade.
A pandemia serviu para mostrar para todos nós que não podemos mais viver em bolhas, que precisamos construir pontes. Um dia, em algum momento, isso vai bater à porta de todo mundo. Se não bateu ainda à sua porta, vai bater em algum momento, toda essa miséria, todas essas coisas terríveis que têm acontecido nos territórios vulneráveis. Não podemos mais pensar numa vida sem colaboração, sem processos participativos, sem união, sem solidariedade. O que temos na nossa comunidade é valioso, e é preciso ajudar as pessoas de fora da comunidade a enxergar isto.
Como pesquisadora, busco levar isso para a universidade sempre que posso. Tenho circulado por várias escolas de arquitetura e não me canso de dizer que a universidade deve atuar nesses territórios, deve ser um dos pilares dessas transformações. A universidade tem um potencial muito grande de produzir conteúdo e pesquisas que expliquem e cataloguem essas metodologias e que as coloquem em contato com seus alunos para que debatam e falem cada vez mais sobre esses assuntos. Nós temos as soluções, sabemos o que queremos e o que precisamos fazer – o que nos falta, na maioria das vezes, é apoio e suporte.
A linguagem dentro de uma comunidade é muito diferente da linguagem acadêmica. As pessoas não entendem o que é produzido na academia, está tudo muito distante da linguagem que as comunidades conhecem e com a qual trabalham. Os moradores estão mais acostumados a ver imagens, a trabalhar com graffiti, com arte, com dança, com música. Como fazer chegar um artigo acadêmico aos moradores? Tem gente ali que mal sabe ler ou que simplesmente não vai ler. Eu tento de alguma maneira falar também sobre isso na universidade, sobre a linguagem que queremos usar para falar com as comunidades. É evidente que há todo um conhecimento técnico extremamente importante, mas que ainda está sendo produzido de um lugar muito distante. Por isso precisamos ter, dentro da academia, mais pessoas desses territórios.
Sou a primeira pessoa do Jardim Colombo, que tem 5 mil famílias, e provavelmente de todo o complexo de Paraisópolis, a fazer um mestrado. Precisamos ter mais diversidade com urgência, e precisamos debater isto, porque trocas são importantes e muito ricas. Quero ver cada vez mais pessoas como eu entrando nas universidades. Quero ver jovens retribuindo para suas comunidades, se formando, mas não se esquecendo de suas origens.
Nunca tive uma referência de arquiteto ou arquiteta durante minha graduação, nem mesmo durante o mestrado. Sempre admirei vários arquitetos, mas nunca houve um com o qual pudesse me identificar, que visse como uma fonte de inspiração. Foi a minha professora de inglês quem me recomendou, certa vez, um vídeo de Francis Kéré, um arquiteto que nasceu na África, em uma comunidade muito pequena em que não havia escola, não havia infraestrutura, não havia quase nada. Ele foi estudar arquitetura na Alemanha, abriu um escritório de arquitetura e um instituto, e voltou para o lugar de onde veio. Lá, ele construiu a primeira escola, e foi a pessoa responsável por levar água à comunidade. Ele trabalha com projetos sustentáveis, usando materiais locais. Quando descobri o trabalho de Kéré, fiquei muito impressionada! Como é que na faculdade ninguém nunca havia me falado dele?

A experiência na Fazendinha nos mostrou que existem outras Fazendinhas em outros locais, e por isso comecei, há pouco, a fazer um mapeamento desses locais na cidade de São Paulo. Existem outros espaços que estão degradados e que não têm recebido atenção. É fundamental começarmos a olhar para eles, até porque isto nos leva à questão da mudança climática. São Paulo é uma cidade muito adensada e muito impermeável, e a cada dia perdemos áreas livres e verdes que poderiam ser hortas e espaços de convivência. As pessoas precisam desses espaços, esses vazios são muito importantes, principalmente em territórios tão densamente ocupados como costumam ser as comunidades, com uma casa em cima da outra e pouquíssimos espaços livres.
Não podemos mais pensar nas cidades sem levar em consideração as questões climáticas, sem pensar que nossa forma de vida vai acarretar uma série de problemas no futuro. Nesse sentido, sinto que o Jardim Colombo tem o enorme potencial de ser uma comunidade modelo, até porque ele mostra que essas transformações não requerem muito dinheiro. No projeto de urbanização proposto pela prefeitura, está previsto um parque linear que vai percorrer toda a comunidade, e se isto acontecer mesmo, vai ser extremamente importante – mas poderíamos também ter uma escola. Poderíamos ser referência em reciclagem de lixo. Poderíamos limpar a nascente do córrego que fica no bairro. Poderíamos ver esse córrego limpo algum dia, cheio de peixes. Esses são meus sonhos.
Ester Carro é arquiteta e ativista urbana, mestre pela FIAM FAAM, é professora e pesquisadora do Laboratório de Cidades (Arq. Futuro e Insper) e fellow na Avenues São Paulo.
Leandro Estevam é artista visual e designer pela UFBA. Desde 2008 desenvolve trabalhos autorais com interesse de pesquisa na história natural do colonialismo, arquitetura moderna brasileira e ecossistema urbano, em suas difíceis sobreposições. Se apropria e atualiza a estética da ilustração botânica, o paisagismo e a jardinagem para usá-las como um dispositivo para pesquisas na cidade. Apresentou sua primeira exposição individual “Canteiro de Obras”, na Cidade do México (2018). Tem publicado o livro “Diário do Pó” (2018).
Já que chegaste até aqui, queremos te convidar a conhecer melhor a Pluriverso. Além dos conteúdos da Revista Colaborativa Pluriverso, você encontrará Cursos, seminários, eventos, oferecidos pela nossa rede de Anfitriãs/ões além de Fóruns públicos e grupos de trabalho e debate autogestionados, ligados ou não a organizações e processos formativos. Sim, Você pode criar o seu.
Vem fazer parte dessa rede diferente, de gente com vontade de fazer do mundo um lugar melhor.