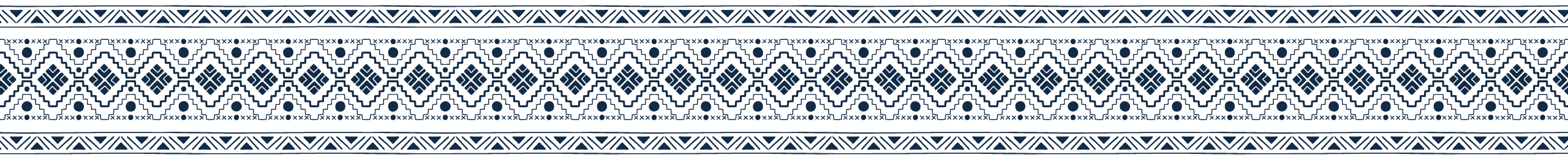I
Recebo com frequência indagações sobre minhas referências para falar da história da cidade do Rio de Janeiro e interagir com ela. Respondo ludicamente que me inspiro nas lições do Caboclo da Pedra Preta, aquele que cantou a beleza da pedrinha miudinha de Aruanda e encontrou no que aparentemente é insignificante o caminho para entender e indagar o mundo. Deliro que Walter Benjamin consultou-se com ele numa macaia imaginada.
Busco pensar a cultura carioca a partir de um poder que Exu, o orixá iorubano, tem: o de ser “enugbarijó”, a boca que tudo come. Exu come o que lhe for oferecido e, logo depois, restitui o que engoliu de forma renovada, como potência que, ao mesmo tempo, preserva e transforma.
A cidade que me interessa é aquela que nas frestas e esquinas ritualiza a vida para o encantamento dos cantos e dos corpos. Aquela que subverteu a chibata que deu no corpo em baqueta que bateu no couro do tambor, conforme digo com frequência. Nós estamos adoecidos de “ismos”, não duvido disso. Clamamos por revoluções libertadoras que são, paradoxalmente, normativas. Há quem desqualifique os saberes da gira; há quem os abrace exoticamente como modos de fazer alternativos, sem a coragem, todavia, para o mergulho que raspará o fundo do tacho; há quem os veja de forma paternalista e simpática, sem descer do pedestal de suas epistemes viciadas.
Caladas por uma cidade oficial historicamente propensa a demolir seus lugares potenciais de memória, em constante negação do que somos e não queremos admitir, as culturas historicamente subalternizadas das ruas do Rio reinventaram a vida no vazio do sincopado, sambando, ousando discursos não verbalizados e soluções originais a partir dos corpos em transe e em trânsito, em desafiadora negação da morte, solapada pelo bailado caboclo dos ancestrais que baixam em seus cavalos nas canjiras de santo.
Aqui, afinal, no meio do mais absoluto horror falaram também aguerés, cabulas, muzenzas, barraventos, avamunhas, satós, ijexás, ibins e adarruns. Na maioria das vezes, proibidos. Sempre vivos. As folhas foram encantadas pelo korin-ewé que chamou Ossain, o Katendê dos bantos. Os toques do tambor são idiomas que criaram, nos cantos mais inusitados da cidade, espaços de encantamento do cotidiano: terreiros.
Muito além de ritos religiosos, nossas macumbas (sambadas, gingadas, funkeadas, carnavalizadas, dribladas na linha de fundo) traçam as tramas do diálogo com ancestrais e apontam para os corpos cariocas como assentamentos animados, gongás feitos de sangue, músculos e ossos, carregados de pulsão da vida. Não há encruzilhada da cidade que não fale disso.
Há quem prefira a cidade desencantada, aquela que não assusta por ter dispersado o seu axé, adequadamente moldada para a circulação de carros e mercadorias, vitimada pela sanha demolidora da bandidagem engravatada, devastada em seu imaginário de afetos: do Maracanã de tantos gols, da UERJ de tantas ideias, das barbearias de rua, dos botequins mais vagabundos, dos açougues e quitandas da Zona Norte, das sociabilidades meninas dos debicadores de pipa, dos pregoeiros da Central, da malandragem do jogo de ronda, dos artistas anônimos do Japeri, dos boiadeiros cavalgadores dos ventos, do malandro das Alagoas e dos tupinambás flechadores de Uruçu-Mirim descendo em gira de lei.
De uma cidade sem o sal da memória dos dias longos e da noite grande não sairá nada. Estamos agonizando e não acredito em nenhuma transformação efetiva no Rio de Janeiro que, no combate aos kiumbas poderosos e na luta pela justiça social, desconheça o manancial que as culturas do tambor representam e as formas desafiadoras de narrativa que elas elaboraram sobre o lugar.
A lufada de esperança vaga que tenho é porque continuo apostando que nas frestas – entre as gigantescas torres empresariais viradas em esqueletos de concreto e as ruínas de arenas multiuso – os couros percutidos continuarão cantando a vitória da vida sobre a morte no terreiro grande da Guanabara.
A nossa história afirma isso em cada gargalhada zombeteira dos exus, daquelas que saem dos terreiros entocados, das brechas, do cu do mundo, das tocas de bicho-homem, das saias das bombogiras, da lua de Luanda e da terra, esta aqui, que nos pariu e nos ensinou que a vida não é, não pode ser e não será só isso que se vê. As cidades, afinal, são territórios em disputa. O jogo que envolve essa disputa se estabelece em teias tecidas pela construção de lugares de memória, confrontos de narrativas, permanências, rupturas, ressignificações, práticas cotidianas, estratégias de afirmação, vozes amplificadas e outras tantas silenciadas.
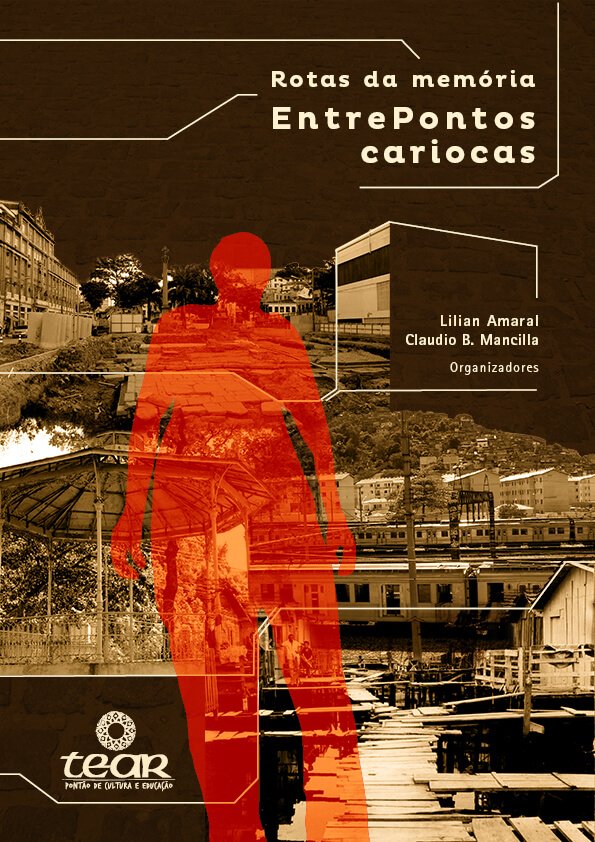
II
A história de uma cidade também pode ser entendida por aquilo que ela já não é. A cidade pensada em perspectiva histórica, inscrita no tempo, a partir do embate cruzado (e não dicotômico) entre o sublime e o belo, a civilização e o encante, o afago e a porrada, a razão e o intuído, o caminho reto e a encruzilhada, é a que me interessa. Vejo a história do Rio de Janeiro como enigma de amarração; jamais como uma realidade objetiva de datas sobrepostas e monumentos perfilados.
Minha episteme, antes de passar pela universidade, foi curtida em terreiros de macumba. Recuso-me, portanto, a discutir algumas questões polêmicas sobre o Rio de Janeiro dentro apenas de um paradigma de legalidade higienizador, fundamentado em um projeto civilizatório que maneja o mito do “carioquismo” como simulacro da informalidade, enquanto, na prática, se alimenta desse mesmo simulacro para moldar a cidade como o balneário de grandes eventos capaz de atrair vultosos capitais. Como eu posso saber o que é um carioca, se a cidade é o território em disputa que pulsa na flagrante oposição entre um conceito civilizatório elaborado a partir do cânone ocidental, temperado hoje pela lógica empresarial, e um caldo vigoroso de cultura das ruas forjado na experiência da escassez? Onde situar uma identidade no meio dessa marafunda?
No horizonte da invenção da sobrevivência, o Rio é terreiro. O símbolo da cidade, para mim, não é o Cristo, o Maracanã, Copacabana ou Madureira. É um pedaço de pau, aquele que, como disse acima, tanto serve para bater nos corpos como para bater no couro do tambor. Morte e vida cariocas. O debate sobre a cidade é necessário e não pode se restringir a uma política de resultados que não problematize nosso drama urbano. Para que ele seja vigoroso, afinal, é conveniente evitar também a infantil e messiânica romantização do precário (de mitos, já nos basta carregar a cruz do carioquismo maneiro) e o discurso iluminado dos que se acham sabedores do que é melhor ou pior para as gentes daqui.
O Rio de Janeiro é – fica a síntese do que foi colocado – uma merda que fede e nauseia, mas aduba vigorosamente, na força incomensurável do sublime, a vida.
(*) Este texto é parte do livro Rotas da Memória, EntrePontos Cariocas, organizado por Claudio Barria Mancilla e Lilian Amaral. O livro completo está disponível para leitura online e download no link, e também no site do Instituto de Arte Tear.
O Simas é historiador, compositor, escritor e intelectual orgânico do subúrbio carioca, é autor de, entre muitos outros, O corpo encantado das ruas (Record, 2019), Fogo no Mato, com Luiz Rufino (Mórula, 2018) e Dicionário da História Social do Samba, com Nei Lopes (Civilização Brasileira, 2015).
Conecte-se com pessoas e coletivos ligados a este e outros conteúdos relacionados. Acesse o Portal de Educonexão da Plataforma Pluriverso e descubra os fóruns das diversas curadorias de conteúdo. É só criar o seu perfil e chamar seu coletivo ou rede de pessoas engajadas contigo e criar um espaço menos poluído e desenvolvido para construir juntos em meio digital.