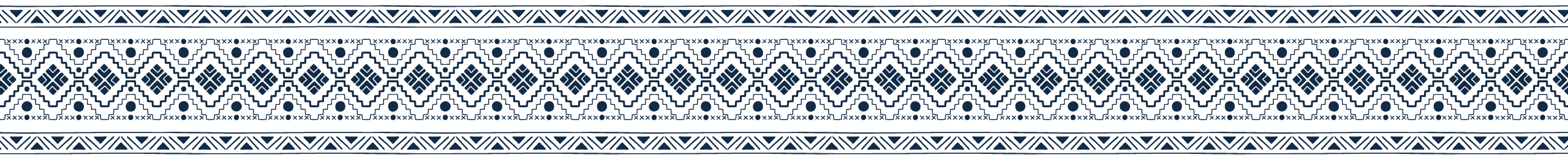No final dos anos 80, Ailton Krenak ergueu-se diante do Congresso brasileiro vestindo um impecável terno branco, pintou o rosto de preto e elevou sua voz para que as reivindicações dos povos indígenas fossem incorporadas à Constituição. A partir desse dia, ele se tornou uma das vozes mais poderosas de um movimento incansável pelos direitos humanos e da terra.
Soledad Barruti o entrevistou para a publicação em Argentina de seu último livro “A vida não é útil“. Com quase 70 anos, ele fala sobre o rio Doce —um rio sagrado para sua comunidade, hoje coberto pelo lama tóxica da mineração—, dos sonhos como lugar de encontro e resistência, e de uma revolução ontológica e possível para despertar uma existência maravilhosa.
Um dia, na selva brasileira, na região de Mato Grosso, um xamã idoso da tribo Xavanté teve um sonho. Ele convocou seus sobrinhos de sangue e outros escolhidos como família, reuniu-os em círculo e contou-lhes o sonho.
“No meu sonho, o espírito do caçador apareceu. Ele estava extremamente irritado. Dizia que eu era irresponsável e não estava cuidando adequadamente dos espíritos dos animais. Que os waradzu, os homens brancos, estavam saqueando tudo e que em breve a caça acabaria, e as pessoas não teriam mais o que comer”.
Ailton Krenak, um jovem de pouco mais de 20 anos, estava no final dos anos 70. Ele nasceu em uma aldeia indígena declarada extinta (por um Estado que desejava e trabalhava para ver todos os indígenas extintos) – a tribo Krenak. Ele estava lá, um dos escolhidos.
Ailton havia vivido uma infância de fugas com sua família: “é preciso se esconder para sobreviver”, dizia seu pai. Mas ele intuía o contrário: que poderia fazer parte de uma nova geração que se mostrasse e levantasse a voz. Por isso, assim que pôde, começou a viajar e se juntar a líderes como o xamã que compartilhou o sonho que para Ailton foi uma revelação.
Os indígenas eram (são) a última fronteira contra o avanço do fim do mundo: são aqueles que habitam os territórios que contêm selvas, montanhas, florestas, água e animais, e aqueles que preservam visões além da cegueira do mundo ocidental.
Da colonização que os dizimou e da ditadura que entrou na selva para “civilizá-los”. Das desaparições e dos reformatórios, onde crianças e adultos eram forçados, com torturas e prisões, a falar português, a se cristianizar, a trabalhar em sua própria destruição e a abraçar a bandeira que os tornaria cidadãos. Da democracia que, quando chegou, tentou incorporá-los ao Estado, negando sua existência indígena.
De tudo isso, eles estiveram mais além: reunindo-se em assembleias e organizações, preparando-se para o que estava por vir. Assim, quando uma nova Constituição Nacional foi proposta no final dos anos 80, o movimento indígena já era uma insurgência. Suas demandas eram concretas e desafiadoras: reconhecimento de sua pré-existência, demarcação de suas terras e uso exclusivo do que ali havia, além de um projeto de futuro.

O discurso histórico de Ailton Krenak
Dez anos depois de ouvir esse primeiro sonho-revelação, Ailton Krenak foi escolhido para levar essas posições ao Congresso. E o que ele fez não foi dar um discurso, mas lançar um encanto. Ele chegou vestido com um impecável terno branco, parou diante do microfone e começou:
“Vocês sabem, Excelências, que os indígenas estão muito distantes de poder influenciar na forma como vocês estão sugerindo o destino do Brasil. Pelo contrário. Talvez sejamos a parte mais frágil nesse processo de luta de interesses que tem sido extremamente brutal, extremamente desrespeitoso e extremamente antiético.”
Em sua mão esquerda, Ailton Krenak segurava um frasco com jenipapo, uma tinta preta feita da fruta e carvão, com a qual alguns povos se pintam para festas, para guerra ou para luto. Enquanto falava com olhos negros e brilhantes, rodeados por lágrimas que ele não deixaria cair, ele começou a pintar o rosto com o negro da morte. E continuou:
“Os indígenas têm uma forma de pensar, têm uma forma de viver. Eles têm condições fundamentais para sua existência e para a manifestação de sua tradição, sua vida e sua cultura, que não colocam em perigo e nunca colocaram em perigo a existência, nem mesmo dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, e muito menos de outros seres humanos. Acredito que nenhum de vocês poderá jamais apontar atos, atitudes dos indígenas que coloquem em risco a vida ou a propriedade de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano deste país. Mas os indígenas regaram com seu sangue cada hectare dos oito milhões de quilômetros quadrados do Brasil. E vocês são testemunhas disso.”
No dia seguinte, todas as reivindicações foram incorporadas ao texto final da Constituição, inaugurando uma nova fase nessa batalha que não cessa: a da vida contra a morte.
A vida é uma dança cósmica
Ailton Krenak é hoje um homem amoroso, com quase 70 anos. Sua biografia o apresenta como líder indígena, poeta, filósofo, Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora e, desde há menos de uma semana, o primeiro indígena a se tornar membro da Academia Mineira de Letras.
Atualmente, Ailton Krenak está em Brasília, mas vive com sua família no estado de Minas Gerais, na região média do Rio Doce. É um lugar sem floresta, pois os fazendeiros buscaram exterminar seus antepassados e a destruíram. É um lugar onde não é mais possível ir ao rio, pois em 2015 ocorreu o que pode acontecer e acontece quando a megamineração é praticada: as barragens de contenção se romperam, liberando 50 milhões de toneladas de resíduos da mineradora de minério de ferro Samarco Mineração S.A.
Aquela floresta já não existe mais, e essas águas não podem ser usadas para nada. No entanto, ele e aqueles que são como ele, pessoas que estão ligadas à terra como ao corpo de sua mãe, não a abandonaram e jamais a abandonarão.
“Quando a água foi sufocada pelo lamaçal da mineração, a experiência emocional de mais de 200 mil pessoas que vivem na bacia desse rio foi uma espécie de morte. Uma experiência de quase morrer. Alguns, de fato, morreram. Outros ficaram traumatizados para sempre. Observando aquele pranto ao meu redor, fui ouvir a voz do rio. E o que ouvi do rio foi que ele havia mergulhado profundamente para se afastar dos humanos. Que o modo de ocupação do território pelos humanos era tão agressivo que ele buscaria outro lugar para continuar existindo. O jornal estampou a manchete: ‘Morte do rio’. Mas eu disse não, essa mentalidade que afirma que o rio morreu é a mesma mentalidade que compra o rio, que se apropria do rio, que o descarta e cria outro rio.
Para o meu povo, para os Krenak, para os povos ribeirinhos que têm uma relação transcendente com aquele rio, com a entidade que é aquele rio, o rio não morreu. Sonhamos com ele. O rio entra nos sonhos e diz: ‘Estou vivo, estou aqui, continuo’. O rio voltará. Só que o fará no seu tempo e quando nós mudarmos. Enquanto isso, o rio vem aos sonhos das pessoas para lembrar que não somos apenas nós que sonhamos com ele: o rio sonha conosco, a floresta sonha conosco, a montanha sonha conosco; eles entram em nós. E talvez seja nessa delicada teia de relações que acontecem nos sonhos que muitas pessoas possam se reeducar para a vida.”

Ailton Krenak fala do rio Doce (Watú em sua língua, nosso avô), e seus olhos se enchem da mesma maneira que quando ele se levantou pela primeira vez diante das câmeras de um mundo que o observava como um animal selvagem: com aquele orgulho e dor nascidos daquele outro tempo, contínuo e ancestral, onde coisas são permitidas das quais nossa sociedade está privada: descansar para sonhar, para começar.
Educados em uma mentalidade produtivista que nos manda dormir depois da televisão e dos remédios, e nos faz acordar com um despertador desde os 2 anos de idade, falar sobre sonhos fora de um divã parece não fazer muito sentido. “Coitados dos brancos, se sonham, só podem sonhar sobre si mesmos“, disse certa vez outro líder indígena, amigo de Ailton, chamado Davi Kopenawa Yanomami, que também luta contra esse problema de termos nos entregado completamente à violência ontológica que nos impede de viver uma vida dançante, ociosa e poética.
“Existem duas pedras que impedem a mudança e nos impedem de transformar o mundo como desejamos durante a pandemia. São ideias que foram instituídas ao longo dos séculos XIX e XX e que moldaram nossa mentalidade. A primeira é que tempo é dinheiro e a segunda é que o trabalho é a realização de uma pessoa, seja individualmente ou coletivamente. Isso pode ser visto em exemplos muito comuns. Quando alguém visita a família, encontra o primo ou irmão mais novo, e pergunta: “O que você quer ser quando crescer?”. Às vezes, essa pergunta é dirigida aos pais: “O que ele/ela vai ser?”. “Vai ser médico, vai ser engenheiro, vai ser, vai ser, vai ser”. Essa anulação do sentido de estar vivo em favor da ideia de fazer coisas, ser útil à sociedade, ser útil ao mundo, esse mundo capitalista, esse mundo de mercadorias. A experiência de existir de uma pessoa não tem nada a ver com fazer algo. Uma pessoa pode vir ao mundo e experimentar uma existência maravilhosa sem precisar fazer nada. A vida é algo maravilhoso. Não é uma profissão. E há muitas humanidades —consideradas sub-humanidades por esse clube exclusivo da humanidade chamado mundo branco— que demonstram isso ao experimentar um sentido de existir, um sentido de estar vivo como um presente. Essas pessoas também são seres mágicos, seres que fazem chover, que invocam o céu, o sol, que chamam as plantas, que convocam outros seres não humanos para o concerto da vida. Essas pequenas ilhas de humanidade são as que ainda sustentam o mundo em que habitamos. Não são as pessoas úteis. As pessoas úteis são aquelas que estão destruindo a vida do planeta”.
A educação proibida
Ailton Krenak utiliza uma palavra da atualidade para descrever o que esse sistema nos faz, muito antes mesmo dessa palavra existir: o bullying. “O mundo das mercadorias pratica bullying contra nosso organismo, nosso ser, nosso pensamento”. Ao nomear assim, o sistema se torna alguém: um garoto alimentado pela violência que se encarrega de subjugar os demais. O bullying é tão poderoso que induz desejos que comandam os corpos até a exaustão, é tão eficaz que geração após geração entregamos nossos próprios filhos para serem formatados pelo medo e pela disciplina.
“Assim, uma criança que cresce dentro dessa lógica utilitária da existência a vivenciará como se fosse uma experiência completa. As informações que receberá sobre como se constituir como pessoa e agir na sociedade seguirão um roteiro pré-definido: será engenheiro, arquiteto, médico, um sujeito capacitado para operar no mundo, para fazer guerra – tudo já está configurado”.
O valentão que pratica bullying não está apenas dentro de nossa intimidade. Ele está assediando nos corredores das diferentes instituições que construímos. Uma delas, que Ailton Krenak vem desconstruindo desde que ele mesmo era um adolescente que aprendeu a ler e escrever aos 17 anos, é a escola.
“Eu fui capaz de ler um texto inteiro e escrever uma redação depois dos 19 anos, e isso foi feito com resistência. Não vi isso como uma conquista, vi como uma experiência de hibridismo que me obrigava a perseverar naquilo que eu já era. Não podia me tornar o tolo que reproduz frases, bibliografias e narrativas dos outros. Eu tinha que ser capaz de romper com essa perspectiva reducionista e produzida em um fluxo de recolonização. Porque nós reproduzimos o pensamento colonial europeu. Reproduzimos isso na educação de nossas crianças e em nossas relações. Temos impressa a reprodução colonial da vida, da experiência de ser. Como se imaginássemos um código de barras. O mesmo código de barras informa como será a educação, como será a relação de gênero, como será a relação de classe, tudo um código de barras, uma mercadoria”.

Um dos parágrafos mais provocativos do seu livro A vida não é útil, diz:
O que eles chamam de educação, na verdade, é uma afronta à liberdade de pensamento. É pegar um ser humano recém-chegado, impor-lhe ideias e soltá-lo para que destrua o mundo. Para mim, isso não é educação, mas sim uma fábrica de loucura que as pessoas insistem em manter. (…) Os pais abriram mão de um direito que deveria ser inalienável, o de transmitir o que aprenderam, sua memória, para que a próxima geração possa existir no mundo com alguma herança, algum senso de ancestralidade. Hoje em dia, quem fala de ancestralidade é visto como um místico, porque “as pessoas de bem” possuem um MBA de alguma instituição e não falam sobre esse tipo de assunto. São como ciborgues que circulam por aí, alimentando grandes grupos educacionais, universidades e toda essa superestrutura que o Ocidente construiu para manter o mundo encurralado.
Como fazer diferente?
E se tentarmos aprender com as crianças antes de querer ensinar-lhes qualquer coisa? Acredito que precisamos abolir a experiência educativa que criou esta humanidade, da qual estamos exaustos agora. Então, vamos pegar essa ferramenta chamada educação escolar e jogá-la fora. Vamos experimentar a vida, permitir que alguém, um ser que acabou de chegar a esta vida, tenha tempo para se expressar. Até os 7 anos de idade, uma pessoa ainda é uma alma, um espírito que está se ajustando ao corpo. Não deveriam ser expostos ao contato com adultos desregulados, cheios de complexos, que agora pretendem receber e educar essas crianças. Eu consideraria voltar a uma comunidade de aprendizado onde não há professor, todos aprendem. Essa comunidade de aprendizado pode começar no âmbito doméstico, na família. Como venho de uma experiência de formação coletiva, com sujeitos coletivos que são os povos indígenas, minha maneira de entender essa comunidade de aprendizado é aquela em que todos estão envolvidos, desde o bebê que está engatinhando até a avó. Ninguém ali é professor. “Você não pode resolver um problema com as mesmas ideias que o originaram.”
A magia de não fazer mais
Voltemos ao início. Hoje, a floresta Amazônica está devastada pelo agronegócio, repleta de plantações de soja, gado, mineração e violência. As cidades são um tumulto onde se trabalha para sobreviver, enquanto a riqueza está concentrada no 1% mais rico. O primeiro sonho-revelação que o xamã Xavanté contou a Ailton parece óbvio: tudo está quebrado, inclusive nós.
No entanto, naquela época, apesar das grandiosas obras realizadas pelos militares e de toda essa guerra contra a natureza que já durava 500 anos, ainda predominava mais a vida verde, a abundância e a esperança do que a destruição. Para perceber o que estava por vir, essa miséria disfarçada de ordem e progresso, era preciso ter um olhar muito diferente do nosso, educado para enxergar o mundo como uma esfera inerte repleta de recursos a serem usados para construir o nosso mundo separado, o nosso mundo de coisas.
Cuidada por aqueles que sonham e se permitem ser sonhados, a Terra encantada, animada e intensamente viva ainda está lá, nos esperando. E agora que estamos imersos completamente nos tempos do colapso (com espécies sendo extintas a uma taxa de 200 por dia, aquecimento global nos levando a condições inabitáveis, fome e crueldade se tornando a norma), parece não haver outra saída além daquela que nunca tentamos: voltar a encontrá-la.
“É preciso colocar a esperança em um lugar seguro”, dizia Ailton Krenak nos anos 80, quando as câmeras ainda o apontavam com desconfiança, questionando o que os indígenas teriam a dizer. Mas ele insistia:
“Se tivermos que pensar apenas a partir da racionalidade contábil dos brancos, nós já perdemos essa guerra há muito tempo. Mas não queremos acreditar no paradigma deles, que é o paradigma do erro. Cantar, rezar, fazer rodas, enviar energias para criar escudos, realizar vigílias pela terra”.
Em geral, ele não se refere a ela como “a Terra”. Ailton a chama de “Gaia” há alguns anos: o nome da deusa grega que deu título à hipótese do biólogo inglês James Lovelock, que retratava este planeta como uma entidade criativa e desperta, capaz de gerar suas próprias condições de existência.
Gaia – diz Krenak – tem a possibilidade de nos tirar daqui em 5 minutos. Eu sinceramente acredito que Gaia possui a sabedoria, possui o poder de nos dispensar na hora certa. Quando pensei nisso, interrompi minha campanha de reeducação dos humanos. Prefiro conversar com as formigas, com as árvores, ter mais tempo para abraçar as árvores.
Se a vida não é útil, talvez a solução seja essa: parar de procurar o que fazer. Não se trata de resignação, mas sim de aproveitar, abraçar, não prejudicar, confiar e aprender. Esperar e nos entregar como criaturas alegres à sua espiral de afetos enquanto restabelecemos diálogos com outros reinos e forças vivas.
Em seu livro “Ideias para adiar o fim do mundo“, Ailton Krenak conta essa história:
Um pesquisador europeu do início do século XX, que estava nos Estados Unidos, chegou ao território dos hopis. Ele havia pedido que alguém daquela aldeia facilitasse o encontro com uma anciã que ele queria entrevistar. Quando foi encontrá-la, ela estava em pé ao lado de uma pedra. O pesquisador ficou esperando, esperando, esperando e ficou cansado. Ele chamou o intérprete e perguntou: “Ela não vai falar comigo?” E a pessoa que estava facilitando o encontro respondeu: “Ela está conversando com sua irmã”. O sujeito disse: “Mas é uma pedra”. E o camarada disse: “Qual é o problema?”.
—Não é maravilhoso? —me diz agora a partir de seu monitor, olhando para mim com um sorriso iluminado e cúmplice.
Tudo é, deveria ser, assim, maravilhoso.
Muitos outros povos da América Latina, desta Pachamama, conversam com a montanha, têm filiação com a montanha. Uma vez fui ao Equador, a Pastaza. E cheguei a uma comunidade de artesãos que estavam preparando vasos com comida e flores para fazer uma festa para as montanhas. São duas montanhas, uma é masculina e a outra é feminina, um casal. E esse povo leva comida, canta para elas e faz uma festa durante vários dias. Conversam com elas, têm comunhão com elas, as recebem, trocam com elas, sonham com elas, recebem os sonhos delas. Esses portais, esses contatos existem, Soledad. Esses contatos estão presentes. Apenas não estão disponíveis nesta escala que temos em nossas reproduções culturais: a escola, a literatura, o cinema, os espaços de troca. Esses lugares não permitem acesso a esses outros lugares transcendentais.
Esses lugares talvez precisem ser buscados nos sonhos, em espaços que permitam a expansão de nosso imaginário. Se seu imaginário está contido, se seu imaginário está blindado, ele não desejará outro mundo. Vai querer consumir o que já está no sentido de mercadoria, de utilidade da vida. Depois de uma experiência como esse encontro, como essa conversa que tivemos, onde mergulhamos nos rios, abraçamos as árvores, aspiramos a graça de Gaia, a mensagem que podemos transmitir é que tudo o que é possível de realizar já está contido em cada um de nós, nós somos a semente dessa mudança. Não é preciso ter mais nada na mente, nem fazer mais nada. Basta ser semente. Porque, se não, nos atribuiremos mais uma tarefa, de pensar, de organizar: não é necessário. Ser semente. Se nos dispusermos a ser sementes, a vida continuará.
Assista a entrevista completa aqui:
Soledad Barruti é jornalista, autora dos livros Malcomidos e Malaleche. Diretora do Bocado- investigaciones comestibles, uma rede latino-americana de jornalistas com perspectiva científica e de direitos humanos. No Brasil, parte dessa rede é O joio e o trigo.
Este texto foi primeiramente publicado na Revista Anfibia. Tradução nossa.